LONDRES - Nesses tempos de superabundância de informação, há tempo de sobra até outubro para que fãs de Eric Clapton no Brasil, sobretudo os que comprarem ingressos para o maior show da passagem do legendário guitarrista pelo país (dia 9 na HSBC Arena, além de apresentações em Porto Alegre, dia 6, e em São Paulo, dia 12), ficarem sabendo: dizer que a atual turnê do britânico é low profile é pouco. Sem efeitos visuais e com um tom intimista simbolizado por contatos raros e curtos de Clapton com o público, a experiência de vê-lo hoje, já perto dos 70 anos (está com 66) e depois de várias temporadas livre do apego de aditivos, é de apreciação musical, não de agito.
A preocupação de deixar o blues falar mais alto ficou clara na recente residência de Clapton no Royal Albert Hall, em Londres, nas últimas semanas de maio, com 11 apresentações. À frente de uma banda tarimbada e tão concentrada quanto ele na tarefa de fazer cócegas em escalas, o homem considerado por alguns uma divindade das seis cordas só revela sua maior preocupação com o público na maneira como compõe o repertório dos shows, sem grandes mudanças nos últimos seis anos.
Ausentes estão todos os discos originais de estúdio desde "Journeyman", de 1989 - ou seja, nada de "Tears in heaven" ou "Change the world". Presentes estão os sucessos mais clássicos, incluindo os que Clapton pega emprestado do cancioneiro do blues, que tanto lhe fez bem e pelo qual ele tanto fez ao lado de colegas de profissão britânicos - o guitarrista é um dos "garotos branco" britânicos a que BB King tanto agradece pela saída da obscuridade num dos filmes mais emocionantes da série de documentários lançada na década passada pelo cineasta Martin Scorsese.
E é com um cover ("Key to the highway", de Charlie Segar), que Clapton inicia os trabalhos e estabelece as regras do jogo. No centro do palco, trajando uma combinação sóbria de calça de brim e camisa escuras de mangas curtas, e com mocassins cor de caramelo, ele e sua guitarra Fender azul-bebê conduzem o show. Sem exagerar nos solos, Clapton também dá espaço para os escudeiros - durante vários momentos da apresentação de uma hora e 45 minutos, são os tecladistas Chris Stainton e Tim Carmon que estão sob os holofotes.
A voz serena de Clapton, mesmo na hora de versos mais "gritados", precisa da ajuda das vocalistas de apoio Sharon White e Michelle John apenas para as harmonias. Velhos companheiros do guitarrista, o baterista Steve Gadd e o baixista Willie Weeks cuidam do andamento, que, apesar da velocidade reduzida, tem lá suas armadilhas. Ainda mais quando "Hoochie Coochie Man", o blues mais famoso do repertório de mestre Muddy Waters, se transforma numa minijam, apesar de ser a apenas a terceira música da noite.
Ajeitando a cabeleira grisalha, Clapton se limita aos "obrigados" entre uma música e outra. Como contrapartida pela falta de amenidades, oferece ao público sucessos. Lá estão "Old love", "Badge", "Wonderful tonight" e, claro, "Layla", ainda que na versão do álbum acústico de 1995, não a pungente original de 1970. "Cocaine" e uma versão bem-comportada de "Crossroads" fecham um show certamente do agrado de um público mais fiel, mas que pode deixar uma plateia menos especializada, ou mesmo uma que há 10 anos espera a terceira vinda de Clapton, querendo mais. A não ser que o velho Mão Lenta tenha guardado alguns truques na manga...
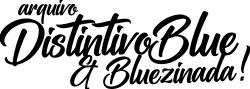


0 Comentários